Noomi Rapace vem se especializando em dramas realmente viscerais. Ela fez uma excelente Lizbeth Salander na versão sueca de "Millennium" (mais conhecida como "assista ela ao invés daquela feita pelo Fincher ano passado") e me arrancou lágrimas com sua interpretação em "Beyond" (2010) (melhor filme estrangeiro que vi ano passado e que, para variar, ficou de fora no Oscar 2012). Em "Babycall", ela segue a mesma linha marcante.
Escrito e dirigido por Pal Sletaune (que não quis dirigir "Beleza Americana" por achar o roteiro fraco), "Babycall" é um típico filme norueguês: frio. Mas não no sentido negativo: é um "frio" mais no sentido de machucar mesmo. Noruegueses não possuem um olhar muito positivo da vida e isso sempre é transmitido em seus belos filmes. Nesse caso, estamos em Oslo - sempre nublada - e acompanhamos a vida da divorciada Anna (Noomi) e de seu filho Andres, e sua luta para proteger o garoto do pai violento. O problema é que a mãe é extremamente protetora, beirando à insanidade e a qualquer custo não quer deixar que seu filho lhe seja tirado pela assistência social. No meio do caminho surge Helger, um vendedor de boa alma que tenta Anna a superar seus traumas ao mesmo tempo em que ele luta contra os próprios fantasmas.
Noomi Rapace vem provando há um tempo já que é merecedora de ao menos uma indicação aos grandes prêmios do Cinema. Ela é simplesmente maravilhosa! Ela consegue convencer em qualquer papel que lhe é dado e, convenhamos, fazer os tipos de dramas que ela faz não é pra qualquer atriz: não são todas que conseguem carregar um filme inteiro nas costas. Os olhos de Noomi são um show à parte sempre: reparem como ela sempre consegue dizer tudo com um olhar apenas. Ela está brilhante no papel de mãe protetora em "Babycall".
O filme é um thriller fantástico, realmente. É tenso do início ao filme e você fica grudado na tela querendo saber o que acontecerá. Os últimos 15 minutos, quando se dá a conclusão da história, são surpreendentes! Enfim, qualquer filme que tenha Noomi Rapace como protagonista eu recomendo. E se for escandinavo, recomendo em dobro!
Alex Martire
Alex Martire


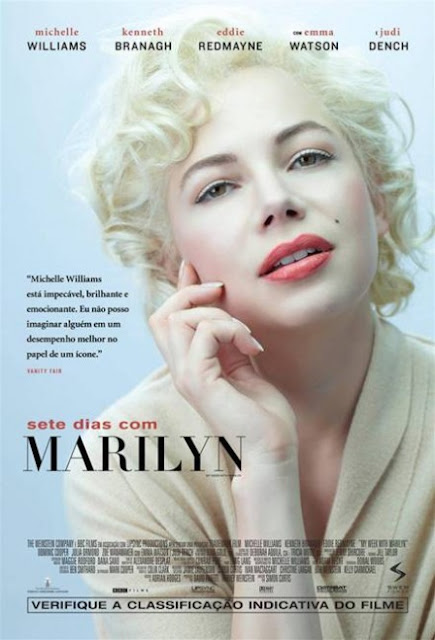



.jpg)











