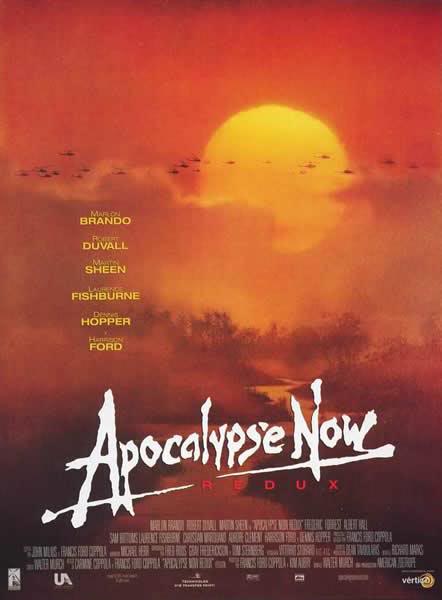"Parece que você também não pensou em mim. Acabei de saber que você se casou. Meu plano era ver seu rosto, me vingar do Hindley e depois me matar. Mas mudei de ideia. Nunca abandonarei você. Nunca mais. Minha vida foi amarga desde a última vez que ouvi sua voz. Continuei vivendo só por sua causa."
Heathcliff
Ano passado foi produzida mais uma adaptação do livro de Emily Brontë (que usava o pseudônimo masculino Ellis Bell), publicado pela primeira vez em 1847, quando "Jane Eyre" ainda caía no gosto da sociedade inglesa do Dezenove. Dessa vez, a história é dirigida pela Andrea Arnold,